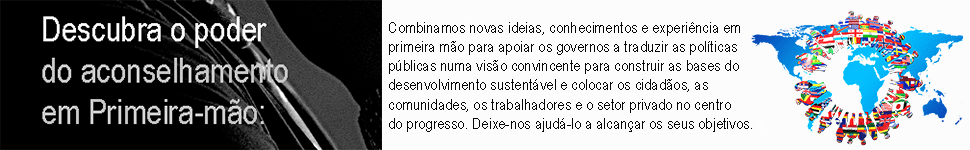Investigador do Centro de Estudos Africanos do o ISCTE-IUL (Lisboa), Gabriel Mithá Ribeiro lançou no passado dia 9 de março “O Colonialismo nunca Existiu! Colonização, racismo e violência: manual de interpretação”, uma “janela” para “compreender e interpretar com maior nitidez a permanente recomposição das sociedades das quais cada um de nós é parte integrante”. Nasceu em Moçambique, em 1965, de ascendência africana, árabe e indiana, filho de pai católico e mãe islâmica.
Em que medida podemos afirmar que ”O colonialismo nunca existiu!”? Não é ele parte estruturante da História da lusofonia?
«Colonialismo» é um termo valorativo, isto é, uma palavra que implica julgar aprioristicamente, antes de conhecer com sustentabilidade, um dado tempo histórico e um conjunto de sociedades, subdividindo aqueles que os constituíram em inocentes e vítimas, o que implica reduzir a complexidade dessas sociedades ou épocas à dimensão negativa. É um tipo de termo legítimo no debate político, mas por ser castrador de uma parte da realidade torna-se bastante inadequado quando o propósito é o de elaborar análises sobre as sociedades que procurem orientar-se pelo princípio da neutralidade axiológica, como considerou Max Weber. Se pretendermos olhar para as sociedades e para as suas histórias com maior equilíbrio necessitamos de algum distanciamento crítico. Só que ele é negado logo à partida por termos como «colonialismo», que é produto do espaço e pensamento políticos e de uma época em que intencionalmente se preferiu incidir apenas no lado negativo dos processos de dominação colonial porque isso servia um determinado tipo de afirmação política, que sem dúvida era legítima. Todavia, tal opção implicava fazer por ignorar que as colonizações europeias – e estamos a falar do caso concreto de África, mas seria o mesmo se estivessem em causa as colonizações que ao longo da história ocorreram em países como Portugal ou Espanha, cito a romana ou a árabe – foram processos complexos que implicaram sempre aspectos negativos e positivos que resultaram em contributos decisivos para a transformação dos povos. Por exemplo, a introdução da escrita durante a colonização em África está a produzir uma verdadeira revolução cultural no continente que fingimos não ver. Essa está a ser uma das mais revelantes transformações históricas de sempre em África. Acontece é que o termo colonização é o que historicamente sempre respondeu melhor à captação de processos complexos dessa natureza. Não sendo nunca os discursos e as práticas políticos inocentes, é de acrescentar que o termo «colonialismo» é também produto do passado recente e pode e deve ser questionado. É provável que nem sequer existisse no século XIX, quando os europeus avançaram para a dominação efectiva de África. Portanto, o que é estruturante na longa história da lusofonia (o termo se calhar não é o mais adequado e uso-o porque também o usou na sua pergunta) é muito mais a ideia da colonização do que a ideia redutora de «colonialismo». Importa ainda que os africanos reforcem a apropriação na plenitude de um passado que é seu e isso, no meu ponto de vista, implica colocar os termos e fenómenos do «colonialismo» e da «colonização» nos seus devidos lugares. Sei que este é um enorme desafio para as sociedades, mas sobretudo para os académicos. É no meu ponto de vista decisivo que, nesta matéria, se autonomizem as características de um tipo de discurso com fins políticos, sem dúvida legítimo, mas que não se pode confundir com as características de um tipo de discurso analítico, seja o último da área da história, da sociologia, da antropologia, da psicologia social ou de qualquer outro domínio do saber académico e crítico.
Que perspectivas nos traz esta obra e o seu conteúdo?
É muito difícil resumir em poucas frases as ideias fortes do livro, posto que ele foi pensado para ser pouco extenso em número de páginas por tema, mas denso de conteúdo. Trata-se de uma sequência de três textos que, se não forem lidos na íntegra e na sua complexidade enquanto um todo, acabarão abordados de forma especulativa, redutora. O risco que antecipo é o de esse tipo de atitudes preconceituosas poder fragilizar à nascença um debate que gostaria que fosse profícuo, rico, respeitador da dignidade das pessoas, dos povos e das suas histórias. Contudo, não é um livro apenas para académicos. Apesar do rigor da linguagem, está escrito para ser lido também pelas pessoas comuns. Analiso aquilo que é importante para a vida comum, seja quando falamos da colonização, do racismo ou da violência enquanto fenómeno social, os três temas de que o livro trata. Qualquer deles é de grande relevância social para africanos, europeus ou outros. Arrisco dizer que o livro pode bem ser um grande desafio para quem pretenda renovar com espírito crítico a construção de conhecimentos sobre as sociedades neste século XXI. E para isso o estudo das sociedades africanas tem de se tornar muito mais central no trabalho das ciências sociais e humanidades. A aparelhagem teórica e metodológica largamente dominante a partir da qual se constrói o conhecimento sobre as sociedades tem sido elaborada com base em estudos sistemáticos das sociedades ocidentais. Isso produziu um conjunto de instrumentos de análise extremamente ricos e valiosos, mas que é decisivo que sejam melhorados. A ultrapassagem das limitações a esse nível passam por trazer para o centro do trabalho académico realidades empíricas que até agora têm sido marginais aos grandes debates teóricos e metodológicos. Seria profundamente errado esperar que a resposta virá apenas dos africanos ou dos não ocidentais. Virá deles, sem dúvida, mas em conjunto com todos os outros numa disputa em que a qualidade deve suplantar tudo o resto. Importa reajustar a capacidade das principais linhas teóricas, metodológicas ou ao nível dos modelos de análise para que estas possam ser efectivamente partilhadas e legitimadas para além de uma única área geográfica ou cultural. Por exemplo, para se renovarem os quadros conceptuais e metodológicos que sustentam os estudos sobre o racismo, o caminho não é tanto o de se insistir em sociedades de maiorias brancas ou em sociedades onde o fenómeno tem sido estudado de forma recorrente desde o século XX. A opção para o futuro tem de ser a de fazer incidir o essencial dos estudos empíricos em sociedades onde existem grandes défices de conhecimentos a esse nível. Aí destacam-se as sociedades africanas, árabes ou asiáticas, posto que se trata de espaços sobre os quais menos sabemos com sustentabilidade e rigor, no caso como vivem e se integram as minorias raciais na actualidade, como a minoria branca de origem europeia, a minoria mestiça ou a minoria indiana. O mesmo para as questões religiosas ou étnicas. Há muito que os fenómenos sociais relacionados com as minorias não são mais apenas questões com que se confrontam as sociedades ocidentais, mas realidades globalizadas. Porém, temos insistido em não compreender ou estudar com fundamento, sem tabus, o que vem ocorrendo para além dos espaços onde recorrentemente estes assuntos são analisados, discutidos, regulados. O século XXI, a esse e a muitos outros níveis, é e será cada vez mais profundamente diferente dos séculos XIX ou XX. Mas nós ainda não sabemos bem como caracterizar os fenómenos em curso. Existe, portanto, um espaço incomensurável não só para a renovação do conhecimento colocando sociedades como as africanas no coração do saber, mas também para trazer à luz do dia questões sociais habitualmente não tratadas. Nesse mesmo sentido, o essencial da aparelhagem académica e intelectual a que recorremos para construir o conhecimento sobre as sociedades é da era da colonização, da era das ditaduras, da era do apartheid ou da era da guerra fria. Tudo isso passou à história. As realidades vividas nos diferentes quotidianos mudaram muito mais do que os instrumentos do pensamento que permitem captá-las, compreendê-las, interpretá-las. O meu livro tenta ser precisamente um desafio a este nível. O texto não se preocupa tanto em fornecer respostas, mas sobretudo em propor um conjunto de instrumentos de análise e de questões para que cada indivíduo ou sociedade reinterprete por si mesmo aquilo que o rodeia e aquilo que, na sua própria perspetiva, é relevante.
A ideia de violência, a seu ver, resume-se de que forma?
O livro procura deixar uma mensagem clara de recusa da violência. Remeto a legitimidade da violência apenas para a dimensão do Estado, seja a violência simbólica ou física. Todavia, importa considerar que a ação do Estado só é legítima se se enquadrar em modelos de funcionamento que as próprias populações reconheçam como democráticos. Esse difícil equilíbrio entre a legitimidade democrática e a autoridade do Estado na regulação da vida social é particularmente decisivo para sociedades como as africanas que necessitam, nesta fase da sua história, talvez mais do que de outras sociedades, de estabilidade e previsibilidade da vida social, bem como de segurança e de confiança que comece na vida quotidiana e que se estenda ao funcionamento das grandes instituições políticas e sociais. Essas realidades necessitam de reencontrar o seu valor enquanto indivíduos e comunidades para ambicionarem construir um futuro melhor do que o presente, com segurança, com confiança que foram bem maiores na altura das independências do hoje e que é preciso reencontrar na actualidade em novos moldes. Mas para isso o papel dos intelectuais e das elites africanas tem de ser profundamente repensado. Por seu lado, a democracia é um fenómeno hoje dominante e relativamente consistente, em África ou fora dela, sendo relativamente consensual a ideia de que a democracia não é uma ideia ou sistema fechado ou acabado, mas em permanente reelaboração, como as próprias sociedades. A democracia é na substância algo que se vai construindo e adaptando permanentemente, a partir de referências a um conjunto de valores e ideais partilhados que as pessoas por si mesmas associam à noção de justiça. Significa que a democracia é algo que foi e está a ser integrado na vida de povos com as mais variadas características culturais e percursos históricos, contando que se respeitem sempre alguns princípios centrais. Um deles é precisamente o da recusa da violência enquanto forma de gestão das relações de poder numa sociedade ou da recusa da violência enquanto processo de transformação social. A esse nível a ideia de violência tem de ser substituída pelas ideias de negociação, de partilha, de acordo, de contrato social. Isso para mim é um dado adquirido, mesmo que as sociedades vivam períodos de crise nesse domínio. Mas já se trilhou um caminho importante um pouco por todo o mundo e por iniciativa dos próprios povos. Quem pensa que, em algum momento, a democracia foi imposta pelo exterior e que existem povos que não modelam a democracia às suas próprias realidades, está profundamente errado. Mas isso vale para a actualidade. Quando projectamos o olhar sobre o passado – contando que visasse a dignificação dos povos, não fosse indiscriminada e tivesse fins bem delimitados, como a luta pela independência ou contra outras formas de dominação ilegítimas –, aí a violência tinha um fundo de legitimidade. Hoje não é mais assim. Mas mesmo no passado, não podemos deixar de destacar a acção não violenta de figuras notáveis como Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela. Apesar de reconhecer isso, o meu livro coloca a questão da recusa da violência em domínios onde alguns persistem em legitimá-la no século XXI. Mesmo na Europa da actualidade é preocupante que certos núcleos de académicos ou de intelectuais se aproximem do ideal da violência, instrumentalizando-a em sociedades terceiras como as africanas, como meio de atingir determinados ideais políticos. Como evidencio no terceiro capítulo do livro, existem certas perspectivas académicas e intelectuais que parecem confundir incentivos à criminalidade em África com incentivos à ambição de transformação social. Isso não é mais aceitável. É por isso que o debate a este nível está longe de estar fechado e interessa directamente a África, continente muito mais vulnerável a esse tipo de utopias do que, por exemplo, a Europa de onde elas partem.
Por que é 2013 um bom ano para divulgar a sua trajectória em Moçambique? E até que ponto esta obra se associa à sua passagem por África?
O livro não serve, nem de longe nem de perto, para revelar a minha trajectória pessoal. Longe disso. É para fazer pensar de forma tão abstracta e neutra quanto possível certas questões sociais relevantes. Tanto quanto possível, as ideias que proponho são independentes de histórias pessoais e de situações particulares de uma dada realidade ou território, em África ou fora de África. A questão é que como tenho feito trabalho de campo desde 1997 em diversos locais de Moçambique, trabalho na área da sociologia do conhecimento e da história, sobretudo assente em entrevistas com pessoas de baixa condição social, recorro ao caso de Moçambique apenas como exemplo empírico concreto para sustentar melhor os argumentos que defendo no livro. Mas poderia citar outros casos, como o de Angola, S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde ou a Guiné-Bissau. Aliás, o capítulo que trata da violência enquanto fenómeno social suporta-se em exemplos empíricos dos dois últimos países. Moçambique aparece um pouco mais no primeiro capítulo, quando abordo a colonização e, portanto, Portugal aparece também aí um pouco mais. O segundo capítulo, sobre o racismo, é mais desligado de exemplos concretos, embora Moçambique também apareça, mas também, por exemplo, os Estados Unidos da América ou a Europa. Sublinho que este é um livro que é um desafio para africanos, europeus, americanos ou outros. Ele não remete para teses circunscritas a determinados espaços. É antes uma instigação à liberdade de pensamento e à ambição de renovação dos caminhos da investigação sobre as sociedades e a sua história, quaisquer que sejam. De resto, a propósito da segunda parte da sua pergunta, eu não passei por África. Nasci em Moçambique no tempo colonial, onde vivi até 1980, ano em que passei a viver em Portugal. Porém, desde 1997 que vou regressando à minha terra natal para conhecer da melhor maneira possível o sentido que os meus conterrâneos, enquanto pessoas comuns, atribuem ao mundo que os rodeia. Mas não duvido das dificuldades que tenho em definir a minha identidade ao nível da pertença ou filiação territorial. Quem nasce africano, como em qualquer outro continente, não perde nunca a sua marca originária. Sem dúvida que as pessoas podem, ao longo da vida, acrescentar ou ganhar outras identidades, como é o meu caso. Fui também aprendendo a adoptar uma identidade portuguesa pela qual tenho a mesma afeição que conservo pela identidade de origem, a moçambicana. Sendo diferentes, as duas são para mim importantes. Consigo estar afectivamente bem com ambas. As minhas origens moçambicanas nunca se apagarão, talvez também porque não tenho sangue europeu. Apenas africano, árabe e indiano. De resto, na transição da infância para a adolescência, a fase das nossas vidas em que se geram os primeiros sentidos que atribuímos ao mundo que nos rodeia nos domínios político e social, que depois se arrastam para todo o sempre, nessa fase da minha existência vivi o forte impacto da independência e da revolução moçambicanas dirigidas pelo primeiro presidente do país independente, Samora Machel. Tais memórias não se apagam. Constituem até parte dos meus tesouros identitários. É provável que, mesmo que nunca me digam, alguns se considerem mais moçambicanos ou mais portugueses do que eu, ou do que pessoas como eu. Mas não vejo problemas nenhuns com isso. Tive simplesmente de aprender a viver nesses e desses cruzamentos. (lusomonitor)
GUILHERME DIAS