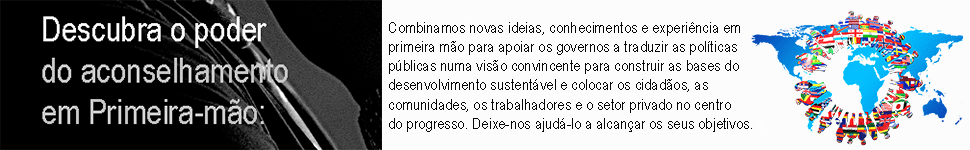A música apareceu-lhe na vida ainda garotinho. Não mais a largou. As vicissitudes da história do seu país, Angola, obrigaram a que tomasse rumos de expatriado. Chegou a comer o pão que o diabo amassou, mas tornou-se um nome internacionalmente respeitado, divulgado por David Byrne.
Waldemar Bastos, um dos maiores vultos da música angolana, morreu esta segunda-feira, aos 66 anos. Em 2013, a pretexto de um concerto em Lisboa, falava ao Expresso. Uma entrevista que pode ler outra vez
A música apareceu-lhe na vida ainda garotinho. Não mais a largou. As vicissitudes da história do seu país, Angola, obrigaram a que tomasse rumos de expatriado. Chegou a comer o pão que o diabo amassou. Hoje é respeitado internacionalmente. Gravou no Brasil e nos EUA e teve consigo nomes maiores desses países.
Deu um concerto acompanhado da Orquestra Sinfónica de Londres, de que resultou um disco, “Classics of My Soul”. Subirá ao palco maior do Centro Cultural de Belém acompanhado pela Orquestra Gulbenkian [fá-lo-ia alguns dias depois, a 16 de novembro de 2013], para o que afirmou ser um “encontro da música ocidental erudita com a música contemporânea de África”.
Nesta entrevista [realizada por António Loja Neves, entretanto falecido] recorda momentos decisivos da carreira.
Um pai organista na igreja, uma mãe que canta em casa e ouve música do Congo… Essas são as verdadeiras raízes?
Vivíamos no Bairro Marçal, em Luanda. O meu pai era enfermeiro e a minha mãe cuidava dos filhos. Uma vez ouviram-me assobiar e espantaram-se, porque, diziam, não era o assobio de uma criança, era de adulto. Tinham sensibilidade musical e ficaram preocupados, não era uma coisa muito normal. Depois fomos para Cabinda. O meu pai tocava sanfona, uma harmónica de teclas, não tinha posses para ter um órgão em casa, apenas podia tocá-lo na catedral. Eu ouvia-o tocar nas épocas festivas e interessei-me. Um dia, por alturas de um Natal, não resisti a experimentar o instrumento. Quando dei por mim tinha o meu pai à porta, mas em vez de me repreender comprou-me um acordeão em segunda mão, como prenda natalícia. Não tinha quem me ensinasse, comecei a tocá-lo com as teclas ao contrário!
Que idade tinha?
Seis, no máximo sete anos. Foi na altura em que apareceram os discos dos Jackson Five, e os meus irmãos começaram a meter-se comigo, que aquilo era instrumento de velhos, que tínhamos era de tocar guitarra.
É então que vai aprender com um professor, o senhor Gomes.
Não havia muito dinheiro, ao invés de ganharmos a almejada bicicleta preferimos dispensá-la e ter aulas com ele. E começámos a tocar por pautas, vindas de Portugal. Lembro-me de ‘Perfidia’, dos Shadows, e de muitas outras. Começámos por instrumentais e criámos um grupo de malta nova, o Jovial.
Ainda não foi o momento para digressões angolanas, mas tocaram em tudo o que era recinto em Cabinda.
Éramos considerados meninos-prodígio, pelo facto de sabermos ler música e tocarmos bem. Fizemos os bailes da cidade, fins de ano, festas escolares, empresas… Já não tive outra vida que não a música, convivendo com os adultos. Vesti calças muito cedo, quase não usei calções na adolescência.
O facto de ter deambulado, com outros grupos, por toda a Angola facilitou a apetência para uma relação privilegiada com os sons tradicionais?
Com certeza. Mesmo em Cabinda, vivíamos na área circunscrita ao hospital, e os cabindas, quando há um falecimento, cantam e dançam, e era ali mesmo ao lado da nossa casa. Durante toda a noite, a várias vozes.
Eu tinha pendor para a composição, era muito curioso, e havia rituais que os miúdos não podiam ver. Vivíamos entre a cidade colonial e o quimbo, entre o mundo urbano e o rural, o que facilitava infiltrar-me nesses rituais até ser corrido pelos adultos.
Ficava fascinado com os tocadores que faziam violões com cordas de aço dos pneus… Foi em certa medida a base da minha carreira.
Fomos educados pelos meus pais a termos uma boa relação com as pessoas, e isso permitiu recolher muito do manancial que hoje detenho.
Se pudermos ser rigorosos, o que é que, do ponto de vista tradicional, advindo dos vários grupos étnicos, mais o cativou? Ritmos, instrumentos…
Tudo me interessava, a melodia, as vozes, as harmonias. Era a alma de um povo expressando-se, e era emocionante. Em África, até a tristeza é ritmada!
Quando se decide pela música, abandonando uma boa posição como técnico de comunicações por satélite, o que o leva a correr esse risco?
Eu tinha interrompido o curso de Engenharia no terceiro ano por causa da música. Depois surgiu esse bom emprego. Mesmo numa altura complicada de guerra civil, deixei essa segurança pela música.
Nessa altura, ainda está em Angola. Mas há de vir ao FITEI, no Porto, em 1982, e decide ficar na Europa…
Viajava muito pelo Bloco de Leste, dava muitos concertos, e osmeus colegas artistas perguntavam pelos meus discos. Não tinha nada gravado.Por outro lado, eu era um artista, não era um político, e senti que tinha de fazer uma viagem interior, tornar-me nómada, soltar-me ao mundo. E, com a concordância da minha mulher, lá fui.
Não será uma deserção tradicional, mas foi uma atitude que lhe trouxe problemas, escapulir-se de uma delegação oficial…
Claro, a própria família sofreu com isso, a minha mãe vivia numa casa que era minha e ficou sem teto… Eu já tinha sido preso pela PIDE com 17 anos, percebia bem as coisas, senti que tinha de libertar-me de tudo e seguir a minha vida.
É então que grava o primeiro disco?
Os brasileiros tinham estado em Angola, a maior delegação de artistas que jamais saiu para o estrangeiro. Nessa altura, o Chico Buarque e outros artistas viram que eu tinha talento. Fui primeiro para a Alemanha Federal e em seguida para o Brasil, onde me receberam.
Primeiro preocupados, não fosse eu um ‘contra’, eram gente de esquerda e Angola era intocável para eles, pediram até informações, mas perceberam que eu era simplesmente um artista que queria seguir a sua vida e participaram até no disco. Foi o tempo, por exemplo, daquela música a recordar o colonialismo, ‘Velha Chica’.
Em que ela diz: “Xé, menino, não fala política!” Mas o Waldemar sempre falou de política, apesar de tudo.
Não sei se falo de política… Falo da vida. Se a vida é política, lá está.
Mas vai regressar a Angola. Queria fixar-me no famoso concerto da Praça do Kinaxixi. Duzentas mil pessoas.
Foi um espetáculo coletivo, em 1990.
Ali estava com o segundo disco, “Angola, Minha Namorada”.
Quando entrei, lembro-me de lenços brancos a acenar nas varandas dos prédios em volta. Era já uma imensa ansiedade pela paz. Havia músicos no palco a chorar. Era todo o Kinaxixi e toda a avenida, a abarrotar. Foi um regresso impressionante.
E ficamos por aqui… Não há palavras?
Ali apercebi-me de que a minha música lhes trazia esperança, amor, solidariedade. A dimensão da paz.
Quando edita o terceiro disco, “Pitanga Madura”, apercebe-se de uma situação delicada: está a ser disputado pelos dois grandes rivais, MPLA e UNITA.
No meio de eleições e no pós-eleitoral. Uma situação complexa. Sempre tive a opinião de que era artista e que tinha de patrocinar a harmonia. Sempre levei isso muito a peito. Naquela situação, em que um disco quase dava dois hinos para inimigos…
‘Pitanga Madura’ e ‘Margarida’, dois êxitos que tocavam nas rádios adversárias.
É muito raro haver dois tops num disco. E logo assim! Após as eleições, a situação era de pré-guerra civil, e como músico acabei por ser castigado. Insinuou-se que eu dizia coisas veladas. Foi duro. Senti que tinha de ir embora.
Mas eles acertaram. Porque ‘Pitanga Madura’ é um ritmo muito urbano e ‘Margarida’ é muito rural…
É verdade! Realmente, tinham os arquétipos da população, coincidentes com as origens históricas dos dois movimentos.
Então, dá-se a ida para os Estados Unidos.
O David Byrne tinha estado em Portugal e casualmente tinha comprado um disco meu, pela capa, como depois me contou. Após várias peripécias – eu estava mais do que escaldado e não acreditei que ele queria falar comigo -, encontrámo-nos. Gravámos um disco e a imprensa americana começou a falar.
Você penou muito até esse momento. Nunca quis desistir?
Nunca. Também, tinha uma família, uma companheira que sempre me incentivou.
Músico africano, para mais ‘exilado’, torna-se difícil arranjar sustento…
Passei as passas nem sei de onde. Não sou pessoa de lastimar-me, mas foi violento. Mas estou grato a Deus e às poucas pessoas que souberam ser, nesses momentos, amigas.
Não é de lastimar-se. Por isso, a maior parte das pessoas não percebeu que passava por dificuldades.
Nunca. Não perceberam, fui sofrendo em silêncio. Tinha uma mulher que do nada soube dar-nos uma vivência com dignidade. E ninguém me viu desperdiçar dinheiro. Tudo o que ganhava dava ao ‘banco’. Resisti porque o maior diamante que posso ter é o talento, uma dádiva de Deus, e esse não deve ser trocado por dinheiro, é-nos dado para repartir com as pessoas. Para podermos viver com dignidade, claro, mas não com ostentação.
Já a edição de “Pretaluz” é uma declaração de princípios. É muito mais profundo, atinge uma dimensão maior.
É verdade. Estava a gravar nos EUA, tinha de dar o melhor. Não só a nível das letras mas também na conceção artística. Houve ali o resgate das guitarras africanas, que os americanos viram como uma coisa fresca.
Única, diziam eles. O “New York Times” considerou-o um dos melhores discos da década. Era uma oportunidade rara, e eu meti tanta coisa! Tanta que o Byrne me mandou um fax a dizer: “Cuidado para não meter muita comida no prato, porque depois enjoamos a comida e não respeitamos o cozinheiro!”
Que tipo de músico é você? Que tipo de música é que faz?
Acho que quem sou ficou dito pela minha caminhada. A minha música é a música da vida, das alegrias e das tristezas, das minhas e das com que me confronto. Da esperança das pessoas, daquilo que absorvo delas. Porque um músico, um compositor, é um simples recetor e transmissor. Recebe inconscientemente, a maior parte das vezes, e labora frequentemente sem ter disso consciência.
Trabalha muito sozinho, com a guitarra? Como compositor, qual é o seu dia de trabalho?
Trabalho muito em certos períodos, como no disco dos Estados Unidos. Noutros, a coisa faz-se mais de mansinho, mas sempre regularmente.
Diz-se que o Waldemar combina a afropop com o fado e a influência brasileira. O que responde a isso?
Não fujo a essas premissas. Desde criança que sou influenciado por tantos sons. Uma coisa é certa: sou um músico angolano! (Entrevista publicada originalmente no Expresso de 9 de novembro de 2013)