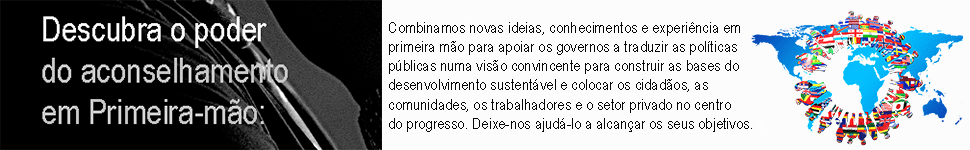O escritor e jornalista José Soares da Costa Caetano ou, simplesmente, Tazuary Nkeita, seu pesedónimo literário, afirma que Angola continua a fazer, ou a deixar que se faça, o jornalismo possível.
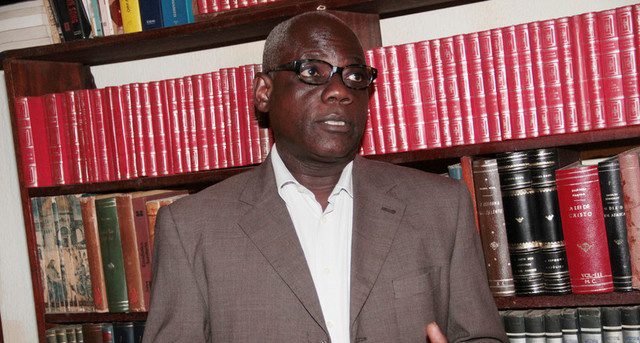
Um dos antigos repórteres de António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola, José Caetano, que integra, igualmente, a equipa dos co-fundadores da agência noticiosa angolana Angop, sublinha que a notícia “dá poder e alimenta o interesse público”.
Por José Chimuco
Angop – Como se sente no início de mais um dia de trabalho?
José Caetano (JC) – Naturalmente, satisfeito por ter merecido a vossa escolha e mais feliz ainda por fazer parte da faixa etária que está a testemunhar este formidável século 21, depois de ter sobrevivido ao século passado, também.
Angop – Quais são os principais traços distintivos do trabalho jornalístico numa redacção e numa instituição como a Organização Mundial da Saúde (OMS)?
JC – A diferença é imensa, começando pelas regras de actuação e da actualidade. Na Angop, onde trabalhei quase 20 anos, desde 1975, a notícia, como sinónimo de “breaking news” (acontecimentos importantes), sempre foi o verdadeiro primado do jornalismo! Recordo o slogan “Aconteceu, noticiamos, voltaremos em breve!”. Telegráfica, na rapidez, concisão e divulgação, a notícia obedece aos factos, domina a actualidade, transmite informação, reduz as margens de erro, dá poder e alimenta o interesse público como a história do “homem que morde um cão e não do cão-vulgar que morde o homem-comum”. Fora das redacções, o antigo profissional da Angop actua como assessor de imprensa e aprendeu a “criar” a notícia, como parte de uma estratégia com objectivos e resultados definidos à partida. Por exemplo, como usar as técnicas da comunicação para ajudar a mudar um comportamento social, fazendo com que uma vacina totalmente desconhecida seja aceite e faça parte dos hábitos de centenas de famílias e comunidades? Ou, então, como ajudar a convencer uma comunidade ou uma classe política a eliminar uma vala com resíduos sólidos que ameaçam a saúde pública? Curiosamente, foi já ao serviço da OMS que entrevistei personalidades como Jorge Sampaio (Portugal), Pascoal Mucumbi (Moçambique) e fui fotografado com Marcelino dos Santos (Moçambique), em sua casa!
Angop – Foi, em 1975, co-fundador da Angop. Que conhecimentos tinha de jornalismo na altura?
JC – Nenhuns. Confesso que em 1975 era um entusiasta, não tinha conhecimentos de jornalismo. Eu pertenço à geração de angolanos que começaram completamente do zero, ao lado dos “tubarões” que já dominavam o jornalismo naquela época. Tudo o que tinha feito antes era um principiante Jornal Mural, na escola, e trabalhos publicados no Boletim estudantil. Éramos estudantes, no verdadeiro sentido da palavra, e muito atentos a tudo. Já lia os jornais e as revistas da época, como A Província de Angola, a revista Notícias, A Semana Ilustrada, a Vida Mundial, o Cruzeiro, ouvia a rádio, mas não passava disso! As primeiras noções foram-me dadas pela Graça d’Órney e pelo Francisco Simons, na Rádio Nacional; pelo José Mena Abrantes, Siona Casimiro e Aníbal João Melo, na Angop, e pelo João Brás Van-Dúnem, a quem dediquei uma crónica muito sentida quando morreu, em 2013.
Angop – Como era o vosso dia a dia na Angop?
JC – A Angop foi um berço, uma escola e uma família! Éramos muito jovens, senão mesmo adolescentes, mas com um sentido de responsabilidade incomparável nos dias de hoje. Vivíamos a euforia da independência, ainda em Julho de 1975. Recordo que foi o Presidente Neto quem sugeriu o nome Angop. Antes, éramos a “ANAP – Agência Nacional Angola Press”, e quem tinha dado esse nome fui eu! Agostinho Neto disse que ANAP se confundia com a AZAP, a agência do regime de Mobutu, no então Zaire, hoje República Democrática do Congo, e decidiu então pela Angop.
Angop – Quem foram os outros integrantes da equipa inicial da agência?
JC – Nós tínhamos três equipas, se assim posso dizer: a redacção, a técnica e a administração, que também incluía os motoristas. Naturalmente que não vou mencionar todos, mas recordo o Luís Neto Kiambata, José Mena Abrantes, Maria Manuela Pitra, Joaquim António Santana (Tó), Hélio Gambôa, Elizabeth Stella Ramos, Feliciana Paulo Monteiro da Silva (Nay Monteiro), Elvira Agostinho, Ernesto Videira (Voto), a Nazaré (operadora de telex), o Nazaré Van-Dúnem (jornalista), António José Ribeiro, Frederico Costa, José Fortuna da Conceição, Adriano Silva (Muloko), João Carlos, Daniel Silveiro (Dany), Virgílio Sebastião Lengue, Domingos Inácio Ambrósio Sebastião Morais (Juca), Sidónio Sebastião (Terry), Berta Tomé, Maria Salomé de Sousa Paim (Salú Paim), Luísa Antónia do Sacramento e Silva Sebastião de Almeida (Luisinha), Diogo, José das Dores, Zano Mangueira e uns mais. Desculpem-me as omissões, mas há um nome que tenho a obrigação de destacar, entre os demais, além dos mestres: o Joaquim Augusto Barroso Belo Mangueira! Foi ele quem me mobilizou para a Angop, em Julho de 1975.
Angop – Que recordações guarda enquanto jovem repórter do Presidente Agostinho Neto?
JC – Muitas, mas a principal recordação é o primeiro passaporte que me foi emitido em 1976 e que conservo até hoje como se fosse um prémio, uma medalha e uma relíquia rara! Tem o número 00515/76, uma capa azul clara, e foi emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, cujo titular era o actual Presidente! Acho que é o objecto mais importante da minha colecção de documentos inéditos e secretos, a que tive acesso desde 1975! Também sinto um enorme privilégio e orgulho pessoal por ter estado presente em acontecimentos inéditos como a Cimeira de Conacry, em Março de 1976; a visita ao Kremlin, em Outubro de 1976, em que estive face à face a Brejnev, Suslov, Gromyko e Podgorny, que eram os mitos da antiga URSS e vestindo um fato “La finesse”, castanho, que comprei com o primeiro salário quando trabalhei no censo da Câmara Municipal de Luanda, em 1972; e, depois disso, as visitas a países da Linha das Frente daquela época, recordando o episódio em que Samora Machel bateu com o pé no chão, para o Presidente Neto dormir em Moçambique, dizendo: “Neto, você foi à Dar-es-Salaam e dormiu lá; foi à Lusaka e dormiu lá; então, tem que dormir em Moçambique!” O ambiente entre os jornalistas era contagiante. Um deles era o Aldemiro Vaz da Conceição, director do Gabinete de Quadros da Presidência da República.
Angop – O jornalismo tem hoje influência na sua escrita literária?
JC – Ganhei paixão pela literatura aos 13 anos, portanto, antes do jornalismo. Em 1972, já tinha escrito, à mão, o primeiro caderno de poesia que um primo meu, Jaca Aragão, pediu para ler e guardou durante mais de 20 anos, inteiríssimo, com desenhos e fotos de jornais e revistas! A grande vantagem do jornalismo é que nos ensina a escrever com rapidez e concisão, ainda que estejamos cansados, com sede e com fome. Dois dos mestres que tive na vida, como é o caso do Mena Abrantes, no jornalismo, e do Jorge Macedo, na iniciação à literatura, foram unânimes em dizer-me que o jornalismo “foi decisivo para controlar e dar coerência” a esta ambição de um dia querer ser escritor! Sublinho, “um dia”, porque, e repito, só poderei considerar-me escritor se conseguir vender um mínimo de 50 mil livros, em pelo menos duas línguas! Se não atingir esta meta, a literatura não me vai sustentar, poderei morrer pobre e continuarei a ser o que sou sem falsas modéstias: autor de pequenas obras e de dezenas de textos!
Angop – Fale-me dos momentos que mais o marcaram na infância.
JC – A recordação mais antiga são as brincadeiras nas praias de Porto Amboim, antes de entrar para a escola, onde aprendi a apreciar a imensidão do mar e a apanhar gafanhotos que eram tão cabeçudos como estúpidos, ao ponto de capturá-los à mão, para depois atá-los a um fio de linha e fazê-los voar como queria… Eu tinha cinco anos e chamava a isso as minhas “Linhas Aéreas de Gafanhoto!” e voava sem medo pelo mundo, correndo e construindo a minha imaginação. Depois, vieram as imagens da guerra, em 1961, e o meu pai entendeu que seria mais seguro enviar toda a família para Luanda. Aqui, fomos com a nossa mãe para o bairro Marçal, junto à Serração Bailundo. A vida em Luanda era muito diferente. Entrei para a escola em 1963, no que é hoje o Magistério Primário, e, a meio do ano lectivo, a família mudou-se para Ndalatando. Regressámos à capital em 1966 e aqui fixei residência. Mas não pense que nasci fora de Luanda. Nasci nesta cidade e fui baptizado em Lândana, Cabinda. O estatuto de funcionário público do meu pai, um homem das finanças, das letras e crente da igreja católica, exigia que ele fosse transferido em cada dois anos, em comissão de serviço. Passámos por Cabinda, Uíge, Quibaxe, Golunto Alto, Porto Amboim, Sumbe e Ndalatando. Naturalmente que ele preferiria a família junto dele.
Angop – Que influências teve para a inclinação para as letras e o domínio excelente da língua portuguesa?
JC – Como disse, o meu falecido pai era um homem de letras e desenvolveu um amor sem comparação pelos livros e pela modéstia do saber. O primeiro livro que ele me deu a ler foi “O Avô”, de Nuno de Montemor, depois de me apanhar a ler o “2455 – Cela da Morte”, de Caryl Chessman. Também foi professor, tinha uma grande paixão pelo ensino e era fiel ao Português vernáculo que dominava, juntamente com o Quimbundo, Latim, Francês, Inglês, e noções de Alemão. Há dias (finais de Novembro de 2014), estive em Ndalatando, numa missão oficial, e o governador Henrique Júnior recordou-me isso. Quando apresentei “O Último Segredo” na cidade da Praia, em Cabo-Verde, o apresentador dessa obra, o médico angolano Manuel Boal, também recordou que tinha sido aluno dele, no ex-Colégio Berta Teixeira, aqui em Luanda. Ele também foi professor do primeiro bispo negro de Angola, o Dom Eduardo André Muaca, que fez questão de lhe rezar a missa de corpo presente quando morreu, em 1982. A minha mãe também foi professora. Pela via materna, sou descendente de Joaquim Cordeiro da Mata e de Sebastião José da Costa, o pai do Carlos Lamartine. Os primeiros escritores angolanos que conheci, pessoalmente, foram Domingos Van-Dúnem e Jorge Macedo, ambos amigos do meu pai. Eu gostava muito do Jorge Macedo. Parece-me que isso explica a veia literária…
Angop – Se tivesse que fazer uma periodização da história do jornalismo em Angola, quais são os períodos que apontaria?
JC – Não tenho essa pretensão e deixo-a a quem se julgar com competência e autoridade para fazer uma investigação mais séria e profunda. Mas, à luz do que é um testemunho de experiência, primeiro como leitor adolescente e depois como um dos actores do pós-75, senti a influência de três períodos distintos: o primeiro, até 25 de Abril de 1974, com a queda do colonialismo e o fim da censura fascista; o segundo, depois de 1975, com a sua fase de partido único; e, por último, o lumiar do multipartidarismo, com todo o percurso que conhecemos até aos dias de hoje.
Angop – Que jornalismo se faz hoje em Angola?
JC – Angola continua a fazer, ou a deixar que se faça, o jornalismo possível, com tudo e com todos, refiro-me a mentalidades, erros, defeitos e qualidades. Continuamos a aprender todos os dias, olhando para dentro, olhando para fora e regressando novamente para dentro. É também um processo de aprendizagens e comparações contínuas. Sabe bem o que digo. Este assunto é polémico, mas o jornalismo, a dignidade ou a liberdade na imprensa angolana, hoje, devem ser vistos num todo e no país que temos! Eu já escrevi sobre isso, quando publiquei os textos “Dignidade não é dinheiro!” e “Jornalismo a olho nú!”, em 1994, no Jornal de Angola. Continuo a pensar assim.
Angop – O que falta para a prática de um jornalismo mais produtivo e sério?
JC – Não estou a dizer que o jornalismo angolano é improdutivo! Pode não ter a qualidade desejada para leitores mais exigentes, em termos de análise, crítica, perspicácia, entretenimento e impacto, mas é produtivo! Costumo dizer que diariamente nos falta a água e a luz, mas nunca ficamos um só dia sem rádio, jornais e TV! Quanto a mais seriedade, aceito e concordo. Talvez se esteja a exigir pouco rigor, em termos de qualidade, e tenhamos dificuldade em compreender as vantagens da análise e da crítica mais independente e equidistante. Não tenho água há mais de cinco anos mas recebi uma factura para pagar 160 mil kwanzas! Há tempos, também ouvia uma reportagem sobre a Índia, dizendo que, por razões culturais, os médicos nada revelavam aos doentes com cancro, por exemplo. Se este princípio for válido para outras esferas, muitos continuarão a “facturar” com a ignorância de terceiros… O jornalismo é uma área extremamente sensível; tanto pode favorecer como destruir. Tem de haver um código de ética!
Angop – A liberdade de imprensa é um facto marcante do jornalismo angolano na actualidade?
JC – A liberdade será sempre relativa. Um amigo do Burkina dizia-me há meses que “o homem-político persegue três objectivos: o poder, a mulher e o dinheiro”. Eu acrescentaria a conquista da imprensa como outro, muito especial. É importante que haja um quadro legal para o exercício da liberdade, mas também é preciso coragem e novas mentalidades. Há certas verdades que custam a ser aceites, ou que exigem uma linguagem especial, seja de que lado for. Se as regras forem claras e respeitadas por todos os actores (políticos, empresários, homens do desporto, música e da cultura), será mais fácil compreender o papel social dos jornalistas. Vejamos a lógica e a eloquência nos tribunais: o juíz tem a obrigação de ouvir tanto os argumentos da defesa como os da acusação, antes de decidir com plena independência e respeito da lei. O jornalismo não deve estar longe desta prática. Podemos ser ou parecer frágeis perante o poder, mas temos um código e uma ética a defender na prestação de um serviço público de qualidade. Como jornalista, eu tenho de ter mil maneiras de dizer, educadamente, “Excelência, não podemos concordar com isto e com aquilo porque os danos são enormes!”, sem magoar ninguém.
Angop – O que pensa da distinção entre a imprensa pública e a privada?
JC – A única distinção que me continua a parecer incorrecta é essa divisão forçada e artificial entre imprensa pública e imprensa privada. Sei bem o que se quer dizer com isso, mas parece que não fica bem manipular esta divisão. O jornalismo é um todo e a imprensa deve ser tratada como um conjunto único. Podemos levar tempo a compreender e aceitar esta ideia, a exemplo de outras dificuldades já superadas, mas havemos de lá chegar, um dia.
Angop – Como avalia a convivência entre o velho e o novo no jornalismo angolano?
JC – A substituição do velho pelo novo; a luta entre conservadores e renovadores e a vitória das forças favoráveis à mudança e a reformas, sempre existiu e sempre há-de existir. É uma lei inevitável que não se aplica apenas ao jornalismo. Faz parte do desenvolvimento. Acho agradável e excitante ver evoluir, poder aconselhar e entregar o testemunho a novas promessas do jornalismo, na imprensa escrita, na rádio e na televisão em Angola. Pessoalmente, olho para os mais novos com muito carinho e simpatia e conto para eles as nossas histórias, quando tínhamos apenas 19 anos! Mas, há muitos jovens que estão a perder a esperança no futuro, queixando-se de erros dos “kotas” e de falta de oportunidades. Muitos dizem que o país não tem perspectivas. É preciso demonstrar o contrário e ensiná-los a usar essa energia de uma forma positiva. Há uma máxima de que gosto muito: “Seja parte da solução, e não parte do problema!”.
Angop – Até que ponto a escrita literária influência hoje os seus textos jornalísticos?
JC – Não lhe sei responder com exactidão porque não posso me avaliar a mim mesmo. O máximo que posso dizer é que, regra geral, a criação literária alimenta-se da imaginação armazenada no subconsciente, comparável a uma nascente de água. Posso escrever durante horas seguidas, de manhã à noite, com petiscos e refrescos ao lado. Pelo contrário, os textos jornalísticos resumem factos obrigatórios, entrevistas, declarações, depoimentos e observações da realidade. No jornalismo nada é imaginário, a não ser a banda desenhada e as folhas de passatempo.
Angop – Já escreveu três obras literárias. Sente-se um escritor maduro?
JC – Em 2001, não tinha experiência nenhuma quando me lancei na aventura de traduzir em livro um tema tão popular como o grito ”Meteu dibengo, meteu Dibengo!”, que correu pelas ruas de Luanda, durante 1996. Desde então, aprendi que, na literatura, temos milhares de saídas, mas ninguém nos mostra o caminho, nem princípio, nem meio e tão pouco o fim. Escrevemos um enredo imaginário que pode terminar de 10 maneiras diferentes, e eliminamos as restantes nove! Como observou José Mena Abrantes, fica-se com “a sensação de que o autor tem receio de deixar de fora coisas essenciais e conta tudo de uma só vez”. Nunca estamos satisfeitos com o texto, com o capítulo e com o perfil de um personagem, criado por nós, principalmente quando lemos duas, três ou quatro vezes. Escrever, reler e corrigir o primeiro livro constituiu uma sensação única, uma mistura de prazer e de sofrimento. Tanto podia levantar da cama às duas da madrugada e escrever até às seis, como fazer uma “directa” até ao meio dia, ir dormir algumas horas e reescrever tudo de novo até altas horas da noite. Há técnicas que aprendi a dominar, com o tempo. Quer chamar a isso de maturidade? Não lhe sei responder…
Angop – Depois do seu último romance – “O Último Segredo” – o que virá a lume?
JC – Continuo a pensar todos os dias e a trabalhar num tema central, com interesse e muitas opções, procurando também títulos mais sugestivos. A matéria-prima para a produção literária é muito abundante em Angola. O mais difícil é arrumar as ideias avulsas em cerca de 200 páginas e oferecer uma leitura coerente e agradável ao leitor que tem mil e uma opções, como a Internet, o Facebook, as telenovelas, a fofoca sobre a política e a vida alheia, os jogos de futebol, as festas e farras nocturnas. As pessoas amigas e os colegas fazem-me constantemente essa pergunta. Em Ndalatando, o governador do Kwanza-Norte, também me perguntou: “Tazuary Nkeita, deixou de escrever?”. Também recordo que no lançamento de “O Último Segredo”, na Sede da UEA, um dos leitores levantou-se e perguntou porquê que demorei tanto tempo entre o segundo e o terceiro livro, cerca de cinco anos? Por sorte, o meu chefe estava na mesma sala e socorri-me da pergunta que ele me havia feito, dias antes: “Vais publicar um livro?! Como arranjas tempo para escrever isso…?”.
Angop – Disse em determinada altura que “O Último Segredo” foi pensado intencionalmente como uma passagem de testemunho de geração em geração, ao longo de quatro gerações. Quer aprofundar a ideia?
JC – Sim, eu disse de facto isso várias vezes, quase a brincar, para mostrar que o último segredo está nas nossas mãos. A explicação é simples: a primeira geração é dos que já eram adultos e experientes em 75; a segunda é a minha, que em 1975 estava crua e tinha apenas 19 anos de idade; depois veio a geração que nasceu naquela altura e que vai completar 40 anos; por último, vem a geração de todos os que estão a nascer agora! É este o último segredo: passar um testemunho de mudança e confiança no futuro por quatro gerações, em vez de vasculhar a vida alheia. Percebeu a ideia?
Angop – Outro traço característico desta obra é a evocação do nacional, sem colocar de parte o universal. É a busca de um ponto de equilíbrio entre as duas realidades?
JC – Também. Vamos supor que daqui há três anos os cientistas anunciem a existência e contactos com um planeta habitado há 900 milhões de quilómetros. Mais populoso do que a Terra, formado por uma União de Cidades Tolerantes, mais civilizadas e educadas, sem nunca terem tido guerras e sem os problemas que me colocou sobre abusos e liberdade de imprensa. Mas, com uma mesma particularidade: cantam e dançam; falam as nossas línguas; têm uma Bíblia; o mesmo Deus e receberam um segundo irmão de Jesus Cristo que não foi morto nem crucificado. Já imaginou a nossa reacção?! A literatura é uma espécie de “óculos para ver ao longe”; alarga-nos a visão. Há divisões, rivalidades e medos artificiais que alimentamos dia e noite e que não fazem o menor sentido! Podem inibir a mente! Foi o que tentei dizer em “O medo do segredo e o segredo do medo…”.
Angop – Fale-me da sua obra de estreia – “42.2 – A Voz dos Dibengos”.
JC – Recorda-se certamente que em Maio de 1996, Luanda inteira insurgiu-se contra as pessoas que usavam uns ténis práticos, chamados “João-Domingos”, que não davam banga! A miudagem via no “dibengo” um motivo de troça, e todos os que saíssem à rua com esses “João-Domingos” eram insultados: “Meteu Dibengo, meteu dibengo com atacadorê!”, e houve relatos de violência nas ruas, por causa do “dibengo”, que quer dizer “rato”. Alguém me disse que Angola é o país com mais ratos no mundo! Não sei se é verdade, mas em “42.4 – A Voz dos Dibengos”, você pode “ver” rato de todo o tamanho e origem: dibengo, mabengo (plural de rato em língua Quimbundo), rato da Europa, rato das Américas, rato do mato, rato da palmeira, rato do esgoto, rato da biblioteca, rato da cozinha, rato do restaurante, rato dos diamantes, rato dos dólares e… todos eles a falar! Neste livro, “42.4” sugere-nos o nome de ANGOLA e “A Voz dos Dibengos”, uma sátira à nossa atitude social: ser mais esperto do que todos, passar à frente do outro com mil pretextos e urgências, andar descalço e fazer troça de quem é humilde, e pretender viver de facilidades…Hoje, veja que o maior orgulho do angolano é conduzir um Jeep 4×4 e dizer “amigo!”, isto é Angola! Em Luanda, há quem pense que é vergonhoso conduzir um Toyota Starlet. Soube de alguém que chorou como criança por não receber um “V8”. Houve amigos que disseram que o livro “é complicado!”. Lido nesta perspectiva a mensagem parece-me bastante clara. Dom Anastácio Kanhango corrigiu-me, dizendo que o título deveria ser “A Voz do Dibengo” ou “A Voz dos Mabengo”, no plural, em Quimbundo. Tentei explicar que eram muitos ratos a falar e que o povo poderia não reconhecer a voz dos mabengo. Nas ruas as pessoas diziam «dibengos…», ainda que incorrectamente. Espero que ele me tenha perdoado!
Angop – A que propósitos são chamados os “dibengos” para conselheiros?
JC – A minha intenção foi realçar diferenças entre o luxo na sala de estar e a miséria no quintal, da “42.4”, metendo todos, digo leitores, com a respiração suspensa, quando se anuncia que os “dibengos” tinham sido recolhidos e iriam falar dentro de momentos…
Angop – Qual a ideia central em “A Minha Pulseira de Ouro”?
JC – A Pulseira de Ouro descreve um personagem com a obsessão de ser Presidente. Petrussinyo, o nosso herói, enfrenta poderosos candidatos, o mais favorito dos quais é um político veterano e influente. Consegue ser presidente, mas de uma comissão de moradores de um prédio em ruínas, no rés-do-chão … depois de ter concorrido às mais disputadas eleições que o país já organizou! De pulseira em punho, vaidoso e arrogante, Petrussinyo instala-se numa área presidencial chamada “Travessa do Ouro”, onde investe muito dinheiro na compra e reabilitação do tal apartamento em ruínas. Ele muda de hábitos e de mulher, convencido de que só uma jovem bonita com hábitos urbanos pode assegurar o seu sucesso político.
Angop – Que literatura temos hoje em Angola?
JC – Deixo esta análise aos críticos literários. Tudo o que vejo são pessoas ávidas de leitura, pedindo retratos da nossa realidade, livros de qualidade, maior criatividade e preços mais acessíveis. Acrescento que devemos valorizar e promover as nossas obras, ir ao encontro dos leitores e melhorar a qualidade.
Angop – Quais são as suas principais fontes de inspiração?
JC – É a vida e tudo o que mexe com ela. A literatura não tem limites de inspiração e está atenta a todas as formas de comportamento e de actividade humana. Na Pulseira de Ouro, por exemplo, usei como inspiração o retrato de uma mulher grávida, semi-nua, pensando nas intimidades com o marido, além da disputa política. Depois, só foi continuar. Quando dei conta, já tinha escrito 50 páginas… O futebol, a música, a beleza feminina, o poder, a riqueza, a selva, tudo nos inspira e tudo pode servir para envolver o leitor e criar um enredo.
Angop – Como vê a convivência entre a velha guarda e os jovens escritores?
JC – É muito benéfica e contagiante. Os jovens precisam de imitar exemplos de pessoas que sejam referências verdadeiras de sucesso. Tal como numa sala de aula, essa convivência seria uma forma de transmitir experiências, bons conselhos, partilhar o poder do conhecimento e aprendermos uns com os outros a pôr fim á ignorância e a ilusões de muitos. E com os leitores também…
Angop – O aumento da produção literária só terá sentido se for incentivada a leitura. Neste sentido, o Tazuary Nkeita tem defendido uma maior aproximação do livro às comunidades. Como se processaria essa aproximação?
JC – Absolutamente certo. Já o disse várias vezes e repito: a literatura não tem fronteiras nem barreiras. Aonde eu for, os meus livros também vão. Temos 18 províncias e 161 municípios. Basta colocar os livros em postos de venda e centros de interesse, a exemplo de outros produtos de consumo, como os combustíveis, cartões de recarga, cosméticos, transportes interurbanos e arranjar formas de fazer circular os escritores em datas especiais. Ideias e lugares para a venda, não vão faltar. É preciso aumentar a oferta. Ninguém compra aquilo que não vê.
Angop – Que mensagem quer deixar aos jovens jornalistas e aos jovens escritores?
JC – Angola é o país do futuro. Estudem, leiam, aproveitem enquanto há tempo, sejam persistentes e evitem o “xaxo”, sem nenhuma credibilidade! Vale a pena apostar no saber e vale a pena um maior esforço.
Quem Tazuary Nkeita é o pseudónimo literário de José da Costa Soares Caetano, jornalista, natural de Luanda, Angola, onde nasceu aos 11 de Janeiro de 1956. O pseudónimo foi por ele criado em 1972, enquanto redactor/colaborador de boletins de carácter escolar em Angola.
Como jornalista em Angola, desde 1975, Tazuary Nkeita pertence ao grupo dos que podem ser considerados “testemunhas vivas” do nascimento da nação angolana, que ele começou a servir aos 19 anos, nas vésperas da independência do país, quando integrou o núcleo dos fundadores de Agência Angola Press (ANGOP).
Na condição de repórter ao serviço da agência, acompanhou visitas do Presidente António Agostinho Neto por vários países, como a Guiné Conacry, Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Zâmbia, Tanzania, Moçambique, Cuuba, a antiga União Soviética e Bulgária.
Tornou-se cronista assíduo do Jornal de Angola, a partir de 1976 e, em 2001, estreou-se na literatura com a obra “42.4 – A voz dos Dibengos”, crónicas romanceadas, uma sátira sobre a sociedade angolana do seu tempo. Em 2005, publicou o seu segundo romance com o título “A minha pulseira de ouro” e, em 2011, o romance “O Último Segredo”. Desde 1995, é oficial de Comunicação e da Promoção da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), em Luanda. É também colaborador do jornal “Semanário Angolense”, em Luanda. (portalangop.co.ao)